o xamã
das possibilidades
da poesia
Rodrigo Garcia Lopes
"Os grandes poemas começam com a nossa visão desdobrada"
Jorge de Lima
Uma das figuras-chave da vanguarda norte-americana contemporânea, dublê de poeta, professor, editor, performer e tradutor,
Jerome Rothenberg se destaca pela recuperação de poéticas de povos ancestrais das mais diversas culturas.
Com seus trabalhos, traduções e antologias, ele tem sido um dos principais responsáveis por trazer para nosso campo de visão a poesia tribal e planetária, por resgatar a aventura poética do bicho Homem no planeta Terra. Nessa busca, Rothenberg descobriu a poesia onde menos esperaríamos encontrar. Poesia como instrumento de visão, de mudança. Dos xamãs, extraiu um modelo catalizador das altas voltagens & energias da linguagem. Como ele definiu:
“Etnopoética refere-se a uma tentativa de investigar numa escala transcultural o alcance das possibilidades da poesia que não só haviam sido imaginadas como praticadas por outros seres humanos”
1.
A premissa que deslanchou seu trabalho nesta área era “a percepção de que as definições ocidentais de poesia & arte não eram mais & na verdade nunca foram suficientes & que nossa contínua dependência delas estava distorcendo nossa visão da experiência humana mais abrangente & de nossas próprias possibilidades dentro dela” 2. Sua obra pioneira – que inclui a pesquisa de formas experimentais de tradução – acabou liquidando alguns mitos literários: primeiro, de que a poesia de culturas “não-letradas” ou “primitivas” é mais simples do que a nossa (o que há de “simples” em linguagens de sinais, rituais xamânicos, sonhos, repentes, fórmulas secretas, danças-evento, hieróglifos?). Segundo, o mito de que a prática poética criativa dos povos não-letrados fosse sempre coletiva e anônima, e nunca produto de um indivíduo-poeta-xamã. Ou, ainda, o de que fomos nós, os ocidentais, que inventamos a reflexividade da poesia, ou os primeiros a pensar na materialidade e natureza da linguagem e seus enigmas. O que ele mostra, em seu trabalho, é que essas formas poéticas “exóticas” também possuem estruturas complexas e surpreendentes. Rothenberg prova que o que é chamado de “primitivo”, nas manifestações poéticas ancestrais, é quase sempre tão complexo quanto um poema “collage”, um poema concreto ou um espetáculo multimídia. A visão poética se dilata, fica mais rica. Começamos a pensar sobre passado & presente como simultâneos. Cantos indígenas & letra de música. Folclore russo & Futurismo. Egito Antigo & Ezra Pound. Orikis africanos & blues. Rituais navajo & performances. I Ching & “operações de acaso”. Poesia pictórica & poesia concreta. O que temos que aprender com o esforço de Rothenberg? Tudo: re-visionista radical, sua obra é uma prova de que há mais poesia entre o céu e a terra do que poderia supor nossa vã literachatice.
O trabalho
Levando esse projeto à frente, primeiro como editor de revistas importantes, como Alcheringa, em Technicians of the Sacred (Técnicos do Sagrado, 1967) Rothenberg dava um rasante sobre as poéticas extraliterárias das Américas, África, Ásia, Europa e Oceania. Apresentava canções, mitos de origem, lendas, hinos, orações, narrativas, rituais, visões, sonhos e poemas visuais de uma riqueza e diversidade desconcertantes. Verdadeiras “peças” que antes estavam nas mãos de antropólogos e etnógrafos. Além de elaborar suas próprias traduções experimentais, Rothenberg foi à caça de tudo o que estava disponível nos anos 60 nessa área: “Uma tremenda quantidade de material bruto coligido no começo do século por antropólogos & lingüistas, pouquíssimas traduções viáveis ou sólidas & uma grande lacuna entre os poetas & os acadêmicos interessados nesse tipo de projeto” 3. Se hoje a poesia dos povos ancestrais é estudada em todo o mundo, isso se deve em parte ao processo detonado por Technicians.
Durante a compilação do material, Rothenberg deparou-se com desafios: como traduzir para a página impressa uma canção, um poema sem palavras, ou mesmo um ritual? Para isso, elaborou o que ele chama de “tradução total”: como a que aplicou nas “canções-cavalo” dos índios Navajo. Com a ajuda do etnomusicólogo David McAllester, Rothenberg incorporava no texto de chegada não só a palavra “mas todo e qualquer elemento do original” (sons, pausas, entonações, etc.). A tarefa, portanto, incluía não só o resgate desses textos, mas sua recriação. Rothenberg apontava no livro a necessidade de enfrentar essas práticas poéticas em seus próprios termos. Com uma visão desdobrada, como diria Jorge de Lima. O sucesso do livro se deu pela abordagem inovadora, pela qualidade dos tradutores que reuniu e por estabelecer paralelos perspicazes entre aqueles fenômenos e alguns trabalhos da poesia experimental deste século (Tzara, Pound, Breton, Stein, Khlebnikov, Ed Sanders, Augusto de Campos, Huidobro). Em Shaking the Pumpkin (Sacudindo a Abóbora, 1972), Rothenberg ajusta o foco na poesia tribal das Américas, com seus tricksters, rituais do peiote e cenas de origem, coligindo as flores da fala de nosso passado poético (mas de um passado que salta no presente e o ilumina). Como escreveu Diane Wakoski: “Antologias ‘editadas’ por Rothenberg não são meramente coleções de livros cheios de poemas. Cada uma é um estudo sobre as possibilidades da poesia. Não apenas suas seleções, mas sua escrita editorial e ensaios continuam a nos mostrar o quanto nossas definições de poesia se tornaram superficiais”.
E limitadas, como parece ser o caso do Brasil nestes tempos de “FHCização” da cultura. Poetas “poeticamente corretos”, presos ao cânone de algumas figuras carimbadas do modernismo, ou então adeptos de uma visão burguesa e limitada de poesia, chegando a indicar um neoconservadorismo na área (volta de soluções classicizantes, apego às convenções, a “angústia da influência”, a imposição de “métodos” de escrever poesia, a insistência numa idéia restritiva de “linha evolutiva”). Como se a poesia fosse um mundo à parte, autônomo, não contaminado pela cultura nem pelos discursos e eventos que a cercam. Mesmo com nosso suposto talento “natural” para a antropofagia (afinal, Deus é brasileiro), nosso modernismo (incluindo a poesia concreta) foi incapaz de buscá-la, de fato, na recuperação e pesquisa de nossa tradição oral, performática, xamânica. O que quase sempre se privilegiou por aqui foi um culto à lucidez, ao rigor, ao construtivismo por si só. Talvez fosse preciso, agora, repensar e questionar nossa política de formas poéticas. Como adverte Charles Bernstein: “Ao considerarmos as convenções da escrita, estamos entrando na política da linguagem”. Enfim, romper a barreira do cânone e atingir a velocidade sem fronteiras da poesia, em todas as suas manifestações, e não apenas segundo as definições que o Ocidente letrado nos legou como “verdades”.
Sem paranóias, também por aqui sentimos o domínio de uma elite que representa a “cultura do verso oficial” (como gosta de chamá-la Bernstein), disseminada em jornais, revistas, editoras, crítica, universidades, academias e panelas em geral com algum acesso ao poder: “aparatos ideológicos” com a função de ocultar a diferença e esvaziar o debate (“nhenhenhém”, como mandam os neoliberais), de “filtrar” toda informação poética que não se enquadre em definições fechadas e autoritárias. De reprimir a liberdade da poesia a “fôrmas”, “formas” e “limpezas poétnicas”, restringindo-nos ao eterno retorno das mesmas referências. Seriam os que sacralizam Drummond, Bandeira, Cabral e os concretos, mas torcem o nariz para um oriki africano, um poema cósmico guarani, um rap ou mesmo uma letra de Itamar Assumpção. Provavelmente os mesmos que, efusivamente, celebram os 500 anos de nosso holocausto.
Por isso a importância do exemplo de uma visão em grande angular como a de Rothenberg para nosso sistema literário elitista (tanto quanto nosso sistema social), pois instiga uma re-visão sobre a prática poética em nossas praias. Poesia não como um “luxo” restrito a alguns entendidos (com seus paideumas tão bem-comportados quanto previsíveis, seus elencos “oficiais”), mas cujas possibilidades estão abertas a todos, no mundo. Sermos capazes de ver poesia – em sua complexidade e riqueza humana/estética – no que pode parecer “selvageria” ou “coisa de índio”. Nas mãos de Rothenberg, a poesia deixa de ser um mero “jogo verbal”, um objeto bacaninha ou a mera celebração de um ego burguês (geralmente da janela de um apartamento). Vira um sériíssimo instrumento de visão, de ação. É poesia como a praticam, há tempos, os poetas-xamãs: enquanto “técnicas do sagrado” (o xamã, aqui, como lembra Rothenberg, “não como um título a ser conquistado, mas enquanto um modelo para a configuração de sentidos & intensidades através da linguagem”). Para ele, é como se a história da poesia humana fosse um complexo longo poema que incorporasse – em todas as suas vozes & visões – a verdadeira “história da tribo”.
Essa outra “história”, no Brasil, está longe de ser contada. Mas são esforços como os de Rothenberg – em conectar o passado poético mais ancestral e esquecido com os impulsos de inovação presentes ou à disposição neste fim-de-século – que passam a ser urgentes por aqui. Encontrar o ponto em que todos os poetas se tornam contemporâneos e universais. No Brasil, embora de maneira tímida, esse esforço ecoa em trabalhos como os desenvolvidos por Luli Miranda e Josely Vianna Baptista, Betty Mindlin, ou ainda no importante trabalho do poeta-pesquisador Antonio Risério, que de modo bastante simples explica o humilhante “atraso” brasileiro na questão etnopoética: “Textos ameríndios e africanos não puderam influir em nossa poesia literária pelo simples fato de ainda hoje permanecerem desconhecidos” 4. E Risério vai além: “A marginalização dos textos indígenas e negroafricanos é um reflexo, no ambiente letrado, do estatuto subordinado dessas culturas no espaço mental brasileiro – reflexo, por sua vez, do lugar ocupado por essa gente, e pela maioria dos seus descendentes mestiços, na estrutura da sociedade nacional”. Como se pode perceber, trata-se de uma questão poética, ética & política (ou, numa palavra, po(li)ética, que se coloca de maneira inevitável para nós nesta virada de milênio.
Da poesia milenar para o fim-de-milênio
Seja como editor de importantes revistas, seja como um dos integrantes do movimento Fluxus, Rothenberg sempre foi um estudioso e difusor da vanguarda internacional. No início dos anos 60, em Nova York, foi um dos difusores da performance art. Traduziu Paul Celan, Eugen Gomringer, Lorca, Schwitters, entre outros. Em 1974, lançou The Revolution of the Word, que reunia a produção da poesia norte-americana de vanguarda da primeira metade do século, resgatando “marginais” como Abraham Lincoln Gillespie, Bob Brown e Eugene Jolas.
No ano passado, Jerome Rothenberg e o poeta e tradutor Pierre Joris lançaram o segundo volume do monumental Poems for the Millenium, uma antologia da poesia que eles consideram como sendo a mais radical e inovadora produzida nos últimos cem anos, reunindo 360 poetas de todas as partes do globo. O primeiro volume, Do Fim-de-Século à Negritude, inicia em 1897, com a seção "Precursores" (como Rimbaud, Blake, Whitman, Dickinson, Mallarmé), passa em revista a “arte do manifesto” e as vanguardas da primeira metade do século, pouco discutidas entre nós (Dadaísmo, Futurismo, Surrealismo, Expressionismo, Objetivismo), até chegar aos poetas da Negritude caribenha e africana. (Do Brasil, inclui neste primeiro volume poemas de Drummond e Jorge de Lima.)
Já o segundo volume colige a poesia global mais radical produzida depois da Segunda Guerra até nossa virada de milênio. Com um enfoque internacional, este volume questiona a tese de que estaríamos vivendo um “momento americano” na poesia mundial desde o fim da Segunda Guerra. Contra a idéia de uma suposta hegemonia norte-americana, mostra – ao lado dos movimentos norte-americanos – a força de nomes isolados (Neruda, Pasolini, Paz, Aimé Césaire, Celan, Vallejo), ou movimentos que estavam sendo articulados pelo globo (Fluxus, Cobra, Umbra, Xul, Poesia Concreta, o Grupo de Viena, Neo-Avanguardia, Negritude, Tammuzi, entre outros). Joris e Rothenberg fizeram uma obra controversa e de fôlego, que deverá ser mais discutida no futuro. Os exemplos de experimentações ao redor do globo também rechaçam a idéia de um suposto “fechamento” poético neste fim-de-milênio, ou de que tudo já tenha acontecido (o que satisfaz os interesses do neoconservadorismo cultural e literário). Pelo contrário, os autores apostam e provam que a experimentação poética ainda é possível. O desafio proposto é perguntar o que pode a poesia em tempos de banalização e fetichização da imagem e da linguagem através dos meios de comunicação de massa, no momento em que ela se vê desafiada pela aparição de novas tecnologias, misturas, possibilidades. O desafio é provar que a poesia ainda pode ocupar um lugar central em nossas vidas, enquanto poiesis e visão de mundo.
Da “imagem profunda” ao paraíso dos poetas
Como seria previsível, a poesia de Rothenberg traz a marca da coexistência dos impulsos xamânicos da poesia visionária e ancestral & das experiências das vanguardas. Desde a adolescência, Rothenberg foi apaixonado pela poesia de Lorca, e foi o método de “composição por imagens” do poeta espanhol que inspirou seu conceito de “deep image” (imagem profunda), que marca sua estréia (White Sun Black Sun, 1960). Nos anos 50, com Robert Kelly e outros, deslanchou essa tendência, que funcionava como uma reação à hegemonia dos postulados imagistas. Uma espécie de imagismo do inconsciente ou visionário (como em Lorca, Blake ou Rimbaud). Foi também via Lorca que ele teve contato com o Surrealismo. O tributo à poesia do “duende” espanhol ocorre em The Lorca Variations (1993), onde ele improvisa e joga com o vocabulário e imagens retiradas de sua tradução de Lorca, apropriando-as para sua poética. Outras influências fundamentais: Pound, Tzara, Stein, Artaud e os objetivistas.
No fim dos anos 60 e 70, a experiência com os índios Sêneca e sua poesia ancestral levou-o a um acerto de contas com sua própria experiência como judeu. Depois de Hiroshima e Auschwitz (como hoje ocorre em Kosovo, ou o holocausto social, no Brasil), Rothenberg queria provar que poesia ainda não só era possível como necessária. Uma espécie de arma de sobrevivência ecológica, como diz Gary Snyder. Em livros como Poland/1931 (1974) e Khurbn & Other Poems (1989), e fazendo uso de procedimentos dadaístas e cabalísticos, Rothenberg realiza um mergulho profundo em suas origens polonesas e no holocausto judeu (“khurbn”, em hebraico, quer dizer “destruição total”), “ouvindo” a voz de um tio sobrevivente da tragédia. Um mix de poesia ancestral judaica e indígena, dadaísmo e surrealismo. Em Seedings & Other Poems (1996), seu livro mais recente, Rothenberg parece chegar ao domínio absoluto dos materiais e energias ancestrais & modernas, incorporando esta fusão em sua carne e mente, para atuar como uma espécie de xamã das possibilidades da poesia.
NOTAS:
1 Em The Politics of Poetic Form. Editado por Charles Bernstein. New York: ROOF Books, 1990. p. 5.
Rothenberg cunhou o termo etnopoesia por volta de 1967.
2 In The Politics of Poetic Form. p. 235.
3 Em “Pre-Face”, Technicians of the Sacred: A Range of Poetries from Africa, America, Asia, Europe & Oceania. 2.a ed. revista e ampliada. Berkeley: The University of California Press, 1984. p. xviii.
4 Em Textos e Tribos - Poéticas Extra-ocidentais nos Trópicos Brasileiros. Rio de Janeiro: Imago, 1993. p. 16.
BIBLIOGRAFIA SELECIONADA DE JEROME ROTHENBERG
Poesia
White Sun Black Sun. New York: Hawk’s Well Press, 1960.
The Gorky Poems. Mexico: El Corno Emplumado, 1966.
Poland/ 1931 (first installment). Santa Barbara: Unicorn Press, 1969.
Poems for the Game of Silence. New York: Dial Press, 1971.
Poems for the Society of Mystic Animals. Com Ian Tyson e Richard Johnny John. London: Tetrad Press, 1972.
A Seneca Journal. New York: New Directions, 1978.
Narratives & Realtheater Pieces. Lot, France: Braad Editions, New York: New Directions, 1978.
Numbers & Letters. Madison, Wisconsin: Salient Seedling Press, 1980.
That Dada Strain. New York: New Directions, 1980.
15 Flower World Variations. Milwaukee: Membrane Press, 1984.
New Selected Poems 1970-1985. New York: New Directions, 1986.
Khurbn & Other Poems. San Francisco: Pennywhistle Press, 1989.
Improvisations. New York: Dieu Don Press, 1992.
The Lorca Variations. New York: New Directions, 1993.
Seedings & Other Poems. New York, New Directions, 1996.
Antologias
Technicians of the Sacred: A Range of Poetries from Africa, America, Asia, Europe & Oceania.
New York: Doubleday-Anchor, 1967. Berkeley: University of California Press, 1985 (edição revisada).
Shaking the Pumpkin: Traditional Poetry of the Indian North America. New York: Doubleday-Anchor, 1972.
Albuquerque: University of New Mexico Press, 1991 (edição revisada)
America a Prophecy: A New Gathering of American Poetry from Pre-Columbian Times to the Present.
New York: Random House, 1973.
The Revolution of the Word: A New Gathering of American Avant-Garde Poetry 1914-1945.
New York: Seabury Continuum, 1974. Boston: Exact Change Press , 1996 (reedição).
Ethnopoetics: A New International Symposium. Com Michael Benamou.
Boston: Alcheringa and Boston University, 1976.
A Big Jewish Book: Poems & Other Visions of the Jews from Tribal Times to the Present. Com Harry Lenowitz. New York Doubleday-Anchor, 1978.
Symposium of the Whole: A Range of Discourse Toward an Ethnopoetics.
Com Diane Rothenberg. Berkeley: University of California Press, 1984.
Poems for the Millenium: The University of California Book of Modern & Postmodern Poetry.
Com Pierre Joris. Volume One: “From Fin-de-Siècle to Negritude”. Berkeley: University of California Press, 1997. Volume Two: “From Postwar to Millenium”. Berkeley: University of California Press, 1998.
Traduções
New Young German Poets. San Francisco: City Lights Books, 1959.
The Flight of Quetzalcoatl. Asteca. Brighton, England: Unicorn Books, 1967.
The Book of Hours & Constellations. De Eugen Gomringer. New York: Something Else Press, 1968.
The 17 Horse Songs of Frank Mitchell. Navajo. London: Tetrad Press, 1970.
Gematria 27. Hebraico. Com Harris Lenowitz. Milwaukee: Membrane Press, 1977.
Songs for the Society of the Mystic Animals. Índios Sêneca. London: Tetrad Press, 1980.
The Suites. De Federico García Lorca. New York: Farrar Straus & Giroux, 1991.
PPPPPP: Poems Performances Pieces Proses Plays Poetics of Kurt Scwitters. Com Pierre Joris.
Philadelphia: Temple University Press, 1993.
Ensaios
Pre-Faces & Other Writings. New York: New Directions, 1981.
The Riverside Interviews 4: Jerome Rothenberg. Com Gavin Selerie (ed.) e Eric Mottram.
London: Binnacle Press, 1984.
Teatro
That Dada Strain. Com música de Bertram Turetzky. The Center for Theater Science and Research.
San Diego, California e Lexington, New York. 1985, 1987.
Der Dada Ton. Peça radiofônica. Germany, 1986.
Poland/1931. Adaptação de Hanon Reznikov. New York: The Living Theater, 1988.
Jerome Dennis Rothenberg nasceu na cidade de Nova York, a 11 de dezembro de 1931, filho de Morris e Estelle Lichtenstein Rothenberg, imigrantes poloneses. Cresceu no Bronx, tendo aprendido a falar o idíche antes do inglês. Graduou-se no City College de Nova York em 1952. No ano seguinte concluiu Mestrado em Literatura na Universidade de Michigan. Em 1952 casou-se com a
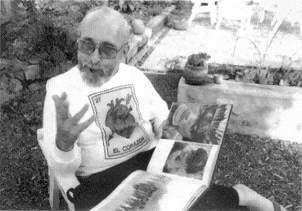
antropóloga e professora Diane Brodatz (parceira no livro Symposium of the Whole: A Range of Discourse Toward an Ethnopoetics, 1984). De 1954 a 55 serviu no exército norte-americano na base de Mainz, Alemanha. Ao voltar, completou seus estudos na Columbia University (56-59). No meio tempo, Jerome publicou traduções da nova poesia alemã. Na metade dos anos 60, tornou-se um membro ativo da vanguarda nova-iorquina, fazendo leituras, performances, editando revistas e fundando uma editora alternativa. Nessa época, despertou para a importância das poéticas orais e tribais. De 1972 a 74 viveu na reserva dos índios Sêneca, a oeste do estado de Nova York. De 1970 a 76 editou (com Dennis Tedlock) a revista Alcheringa, a primeira dedicada à pesquisa etnopoética. Em 1978, publicou A Big Jewish Book, uma antologia de textos poéticos judaicos. Em 1993, The Lorca Variations ganhou o Prêmio PEN/Oakland Josephine Miles. Atualmente, Rothenberg é professor de Literatura e Artes Visuais na Universidade da Califórnia em San Diego. Vive em Santa Bárbara com sua esposa Diane, e tem um filho.
matéria gentilmente cedida para este site
in Medusa nº 5, pág.
2-5, junho-julho, 1999.